Cada pessoa que chorava, e algumas tinham sido vistas a baixar a cabeça, chorava não pelo morto mas pelo ruído que as rodas daquele mecanismo libertavam. Havia, tanto nas palavras religiosas quantos nos gestos quase universais dos soldados a baixarem o caixão em direcção à terra, a fixação num ponto que era comum e não já individual. Esse ponto que unia a comunidade dos presentes era a sensação de que cada um deles poderia, no dia seguinte, ser o morto que os outros homens respeitam. Chorava-se em conjunto pelo fracasso da cidade: ainda não se encontrara um antídoto para aquele ruído que parecia ser libertado em cada enterro. Cada homem reivindicava que a morte - e o seu sistema de funcionamento - terminasse antes de chegar a si. E em cada funeral a despedida do morto era também o relembrar de um fracasso comum, de um fracasso, inclusive, da mais alta referência dos humanos: a sua cultura, a sua forma de raciocinar que construíra um novo mundo e que quase tornara o perigo, em tempo de paz, uma energia tão normal, extraordinária mesmo. De facto, nas cidades sem guerra, o perigo tornara-se raro, mas a morte, essa, continuava abundante; parecia impossível ao homem dominar o seu preço: este continuava baixo, acessível, igual ao de qualquer produto insignificante. A morte, cada morte individual, manifestava o fracasso económico, técnico e cultural das cidades.
Chorava-se por isso no enterro de Albert Buchmann, como em qualquer outro, não pela falência individual de um corpo mas pela continuação da falência da comunidade dos homens e do seu principal projecto, a imortalidade.
Aprender a rezar na Era da Técnica, Gonçalo M. Tavares
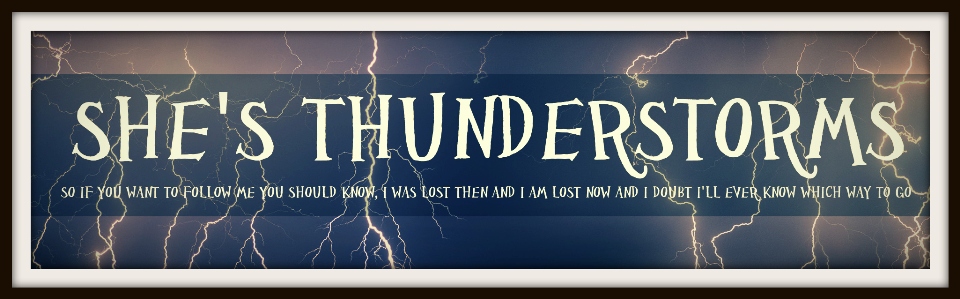
1 comentário:
Maravilha.
Enviar um comentário